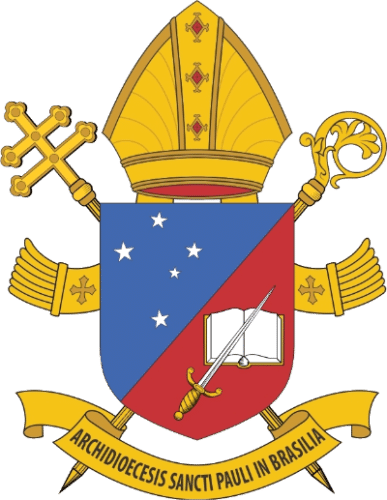A laicidade do Estado vem se tornando um “dogma” sempre mais sacramentado em nosso mundo: em seu nome se busca remover crucifixos de tribunais ou proscrever o Ensino Religioso das escolas públicas; sob sua invocação, pretende-se avançar as bandeiras, como a da ideologia de gênero, entre outras coisas. A religião vai perdendo a cidadania na arena civil, e se vê obrigada a buscar refúgio nas catacumbas de cada lar.
As origens históricas desta “privatização” remontam ao conceito de tolerância religiosa, primeiro esboçado por um John Locke: a pretexto de apaziguar as disputas políticas entre católicos e protestantes nos países europeus, ele argumentava que o objetivo da religião seria apenas a salvação das almas – justificando-se, assim, “a exclusão da fé da esfera pública ou da arena do bem comum”. Em nossos dias, esta separação absoluta entre fé e política é abraçada por um Jürgen Habermas – que considera necessário, para um “ato comunicativo ‘ideal’”, excluir-se todo “apelo à autoridade ou às revelações especiais”, de tal forma que “a religião não deve se intrometer nos debates abertos e seculares da arena pública” –, ou ainda por um John Rawls – que propõe como “sociedade perfeitamente justa” aquela em que os agentes públicos operam sob o “véu de ignorância”, abdicando de seus próprios pontos de vista e visões de mundo (inclusive as crenças religiosas) ao estruturarem a ordem social (cf. Robert Barron, Discutindo Religião: um Bispo se apresenta no Facebook e no Google, Cultor de Livros, 2020). Por trás de todas essas formas de extrapolação da tolerância está a premissa filosófica voluntarista, segundo a qual todos os sistemas morais e religiosos seriam indiferentes entre si, pois, no fundo, cada um teria a sua própria verdade, construída pela sua vontade individual – mas tudo isso tem um preço.
É que a razão mostra que existem, inscritas na própria natureza humana, certas “normas morais universais”, fora das quais é insustentável “a própria conservação do tecido social humano e o seu reto e fecundo desenvolvimento” (São João Paulo II, Veritatis splendor, 96-97). Mas – e aqui está o “principal desafio da democracia” – estes princípios morais fundamentais não podem ter por fundamento o mero “consenso social”, a concordância de momento, pois, “se não existe nenhuma verdade última que guie e oriente a ação política”, a “democracia sem valores converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história demonstra” (Idem, 101; cf. Bento XVI, Discurso no Parlamento de Londres, 17/10/2010). Não foram poucos, afinal, os regimes “democráticos” que, abraçando o relativismo ético, aceitaram a escravidão, o holocausto, as perseguições – e hoje, o descarte dos não nascidos, dos inválidos, dos idosos…
Daí que, conforme a sadia cosmovisão cristã, o papel da religião, no que toca à política, não é o de advogar por candidatos ou decisões técnico-políticas “oficiais” e muito menos partidárias. Cabe, sim, à religião, um papel corretivo: “Ajudar a purificar e lançar luz sobre a aplicação da razão na descoberta dos princípios morais objetivos” (Bento XVI, cit.), que possam orientar a ação humana e, também, o exercício da cidadania.
É verdade que o fim da Igreja (bem espiritual) é distinto daquele do Estado (bem terreno) – mas ambos se exercem sobre o mesmo homem, que por sua vez tem por fim último o bem espiritual. O próprio termo laico, afinal, vem do latim eclesiástico laicus, que significa “leigo”, “fiel da Igreja”. Estado laico não é Estado ateu!