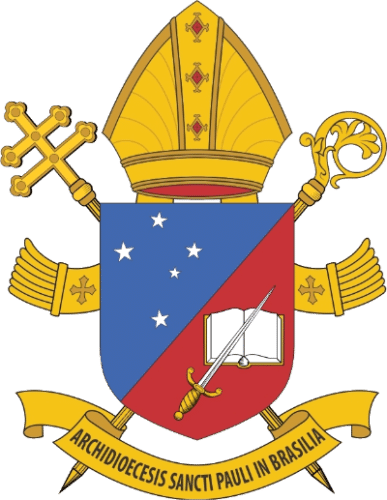Jornalista, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Filipe Domingues, colaborador do jornal O SÃO PAULO, publicou recentemente o livro “Selflessness in the Age of Selfies”, fruto de sua pesquisa para o doutorado, concluído em 2019.
A obra, por ora apenas disponível em inglês, mas da qual já resultaram alguns artigos em português, aborda como a mídia e as redes sociais fazem parte da dinâmica da cultura do descarte e do consumismo, e propõe reflexões sobre a presença da Igreja no ambiente digital. Domingues também se baseou nas preocupações externadas pelos jovens no Sínodo dos Bispos de 2018, do qual ele participou como perito para as questões de ética na comunicação. Leia a íntegra a seguir:
O SÃO PAULO – Como surgiu a ideia de produzir o livro “Selflessness in the Age of Selfies”?
Filipe Domingues – Embora eu seja jornalista – e agora trabalhando também no meio acadêmico –, durante a pesquisa do meu doutorado em Ciências Sociais, eu achei que precisava sair da zona de conforto e me voltar para a análise das redes sociais, a partir dos princípios do ensinamento social da Igreja. A ideia inicial era fazer uma reflexão ética sobre as redes sociais, como nos comportamos ali, por que elas são como são, e como deveriam ser para que a gente tivesse uma vida melhor.
Você foi membro da comissão redatora do documento pré-sinodal e participou, como perito, do Sínodo dos Bispos sobre os jovens em 2018. O quanto essa experiência contribuiu para as reflexões que apresenta no livro?
Quando eu trabalhava na parte teórica da pesquisa, meu orientador pediu que eu acrescentasse uma análise concreta. Tive a sorte de, ao mesmo tempo, ser convidado para participar da reunião pré-sinodal e depois da assembleia do Sínodo, cujo tema era “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Dali, tirei meus dados para a pesquisa “de campo”. Juntei as duas coisas e terminei com uma reflexão ética, sobre a cultura do descarte nas redes sociais, que se confirma nas falas dos próprios jovens durante o Sínodo.
Quais são as reflexões centrais apresentadas neste livro que em seu título, em tradução livre, remete a dois conceitos aparentemente opostos: o altruísmo/atenção com o próximo e a personalização/individualismo?
Sim, infelizmente em português não temos uma palavra equivalente a “selflessness”, que em inglês seria o esvaziamento ou “apagamento” de si mesmo. Daí eu faço um jogo de palavras com “selfie”, que é a foto de si, um autorretrato digital, feito com o celular. Na era dos selfies, como podemos deixar de nos colocar sempre em primeiro lugar? Essa é a reflexão de fundo, e chamo os jovens para conversar. Duas pessoas me influenciaram muito: um é o estudioso inglês Roger Silverstone, morto em 2006, que fala da “mediapolis”. Ele diz que hoje nós nos encontramos e nos relacionamos principalmente por meio da mídia, da tecnologia. Quase tudo o que sabemos sobre o mundo e sobre o outro, aquele que é diferente de nós, sabemos por meio da mídia. E quem aparece mais na mídia tem mais voz. Quem não aparece não é lembrado.
A outra influência foi o Papa Francisco, que trouxe a expressão “cultura do descarte” para o magistério social da Igreja, influenciado por outros teóricos, como Zygmunt Bauman. Francisco diz que, nessa cultura, uma parcela de pessoas está totalmente excluída do sistema econômico e social. Elas não estão só marginalizadas, o que já seria ruim; elas simplesmente “não existem”, estão fora do sistema, descartadas, e são tratadas com total indiferença. Procurei entender, então, como a mídia e as redes sociais fazem parte da dinâmica do descarte, e como os jovens sentem isso tudo.
O que caracteriza a “Age of Selfies” e o quanto entendê-la pode nos ajudar a compreender as posturas dos jovens de hoje?
A cultura do descarte define essa era. Suas bases são o consumo, o mercado, a aceleração do tempo e o desperdício. No livro, eu falo desses pontos. Mas, basicamente, na cultura predominante, nós consumimos muito, mas estranhamente somos muito desapegados dos bens materiais – descartamos as coisas rapidamente, e elas são feitas para durar pouco. O que é velho é considerado ruim.
Aplicamos uma lógica de mercado a quase tudo, às nossas relações, à religião, à educação, à saúde… tudo é considerado na base da troca, sem um sentido de gratuidade, e apenas de tirar o máximo proveito da situação de forma egoísta. E tudo acontece muito rápido. As coisas perdem valor porque só o que é útil é válido. A velocidade nos diferencia da era pré-digital.
Por meio dos algoritmos, as redes sociais estão cada vez mais arquitetadas a partir das preferências de cada usuário. Qual impacto isso tem causado para os relacionamentos interpessoais?
Quem assistiu ao documentário “O dilema das redes”, na Netflix, viu que as redes sociais nascem como uma iniciativa boa, de democratização da informação, de facilitar as comunidades, de aproximar as pessoas pelo que elas têm em comum. O que as desvirtua é a monetização, ou seja, quando elas se tornam negócios que têm que dar lucro e praticamente não são reguladas. Já não podemos mais falar em “usuários”, porque quem está ali não está só usando uma ferramenta, mas está ali com toda a sua pessoa, com sua personalidade, suas relações, que são reais, participando da cultura digital, se encontrando com outros humanos, mas em ambientes digitais. Os algoritmos são códigos que servem para acompanhar nossos comportamentos, associando conteúdos a pessoas conforme o que eles consideram relevante, e isso tudo é usado por empresas como um negócio que tem que dar lucro.
A Igreja tem se feito presente como deveria no ambiente digital, de modo a bem acompanhar e orientar os jovens? O que ainda pode ser aprimorado?
A resposta curta é não, não tem. Mas a resposta longa é que ninguém tem feito isso bem, ainda. Essa é uma realidade em constante transformação. Até as empresas como o Facebook, que agora se chama Metaverso, ou Apple, Amazon, Google, estão todos “correndo atrás do rabo”, tentando descobrir qual é a próxima grande revolução. Ninguém sabe ainda o que a tecnologia pode nos proporcionar em 50 anos. O que podemos fazer hoje, e a Igreja pode contribuir mais, é ajudar as pessoas comuns, especialmente os jovens, a entender como as redes funcionam, quais são os interesses por trás do seu funcionamento, e ensinar as virtudes humanas, os princípios cristãos, que podem e devem ser aplicados também à vida digital.
No recém-lançado livro “Evangelização Juvenil – Desafios e Perspectivas”, há um artigo de sua autoria intitulado “Jovens e redes sociais: é possível construir a ‘cultura do encontro’ digital?”. Considerando que seja possível tal construção, isso envolve quais passos principais?
A cultura do encontro, nas palavras do Papa Francisco, é o oposto da cultura do descarte. Se o descarte é marcado pelo consumo, pela velocidade, pela indiferença, o encontro é marcado pela escuta, pela lentidão, pela proximidade, inclusive de pessoas diferentes. É possível fazer isso nas redes sociais? Os jovens de hoje não vão sair das redes, e o Sínodo mostrou que eles querem ser acompanhados pelos mais velhos, gostam de ser ouvidos, mas também de ouvir. Ficar longe das redes não nos aproxima dos jovens. Pelo contrário, a Igreja precisa estar lá e promover o encontro, ajudando os jovens com oportunidades de conhecer pessoas diferentes, praticar a misericórdia, obras corporais e espirituais no mundo digital, a dialogar de forma respeitosa, a não cair em armadilhas políticas e fake news… Nas redes, é muito fácil bloquear alguém, é muito difícil recuperar uma amizade. Será que a Igreja pode criar espaços para nos “desbloquearmos” uns aos outros? O Evangelho mostra que sim. Agora temos que tornar isso como uma prioridade da “era dos selfies”.
As opiniões expressas na seção “Com a Palavra” são de responsabilidade do entrevistado e não refletem, necessariamente, os posicionamentos editoriais do jornal O SÃO PAULO.