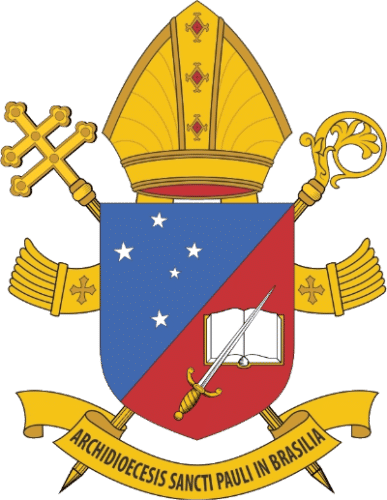O princípio da autonomia é central no debate contemporâneo sobre a vida, mas o pensamento contemporâneo tem muitas vezes reduzido a sua aplicação a uma espécie de “direito ao capricho”, não ousando abordar a necessidade original de satisfação total que faria frutificar o anseio de liberdade. Trata-se de um ponto de tensão para o pensamento moderno e pós-moderno, que pode levar a um diálogo construtivo com a tradição cristã.
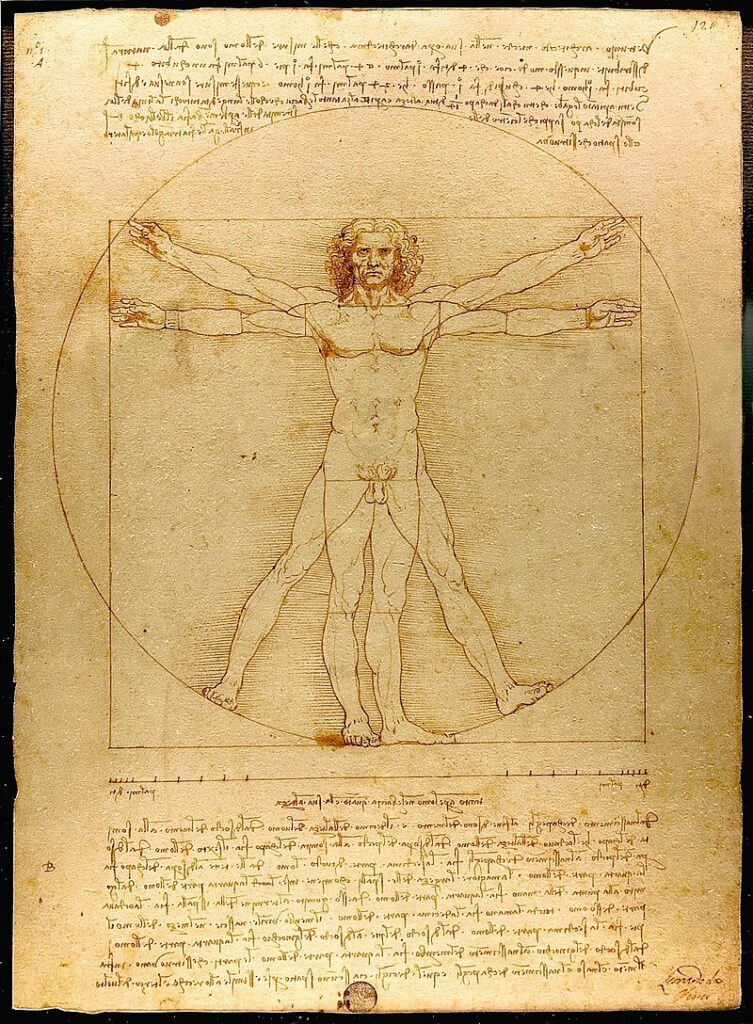
Estamos num ano olímpico e os heróis que nos foram oferecidos como modelos de vida são aqueles que, com o seu esforço, alcançaram o sucesso, obtendo uma medalha. Quem não chegou será esquecido, só os vencedores ficam nos livros da história do esporte!
Como observa Byung-Chul Han, em A sociedade do cansaço (Petrópolis: Vozes, 2015), a busca frenética pelo sucesso é a grande escravidão do nosso tempo. Nisto encontramos um aspecto importante e verdadeiro da nossa vida: a necessidade de nos colocarmos em condições de alcançar a meta do nosso desejo, seja ele grande ou pequeno, é uma necessidade de todos – todos queremos ser felizes, e atingir a meta também significa eliminar ou superar o que atrapalha, e isso implica em ter autonomia, que é entendida como ditar as próprias regras, sem depender de nada nem de ninguém.
Na bioética a palavra autonomia indica, por um lado, a capacidade de tomar decisões e, por outro, o direito de ter respeitada a própria vontade em relação a si mesmo. Aqui reside o ponto delicado, porque não somos indivíduos isolados, mas pessoas constitutivamente em relação com as outras, depende delas em muitos aspectos e muitas delas dependendo de nós e de nossas decisões.
No debate sobre a vida este ideal de autonomia é central. É invocado para o direito ao aborto e a maternidade é por vezes vista como um limite à autonomia da mulher para decidir sobre o seu destino nas mesmas condições que os homens. É invocado quando se trata de fim de vida, uma vez que a extrema dependência dos doentes terminais ou portadores de deficiência é considerada motivo suficiente para invocar uma morte “digna”.
Estamos diante de um paradoxo que exige um novo passo explicativo. Para que seja plenamente afirmada, a autonomia exige a ausência de condicionamentos internos e externos; mas um sujeito totalmente independente não teria história nem pertencimento, nem pai nem mãe, nem ideal a propor. Seria um sujeito sem identidade, “líquido”, segundo a famosa metáfora de Zygmunt Bauman, em seu livro Modernidade líquida (Rio e Janeiro: Zahar, 2015)..
Para superar este paradoxo devemos ampliar a ideia da pessoa como sujeito isolado e, portanto, repensar a liberdade em conexão com a responsabilidade. A pessoa não é apenas um sujeito que mede as coisas a partir de uma opinião pessoal ou de um apetite momentâneo (um sujeito autorreferencial como diria o Papa Francisco), mas é muito mais: a pessoa, se a observarmos em ação, é uma necessidade do infinito; sua libertação coincide com a satisfação de um desejo que é infinito, mas que ela não tem, dentro de si, a capacidade de realizar, pois vive sempre nos limites das circunstâncias.
A verdadeira autonomia se descobre, então, na ousadia de sustentar essa tensão até o fim e não se contentar com a satisfação dos caprichos. Paradoxalmente, a verdadeira autonomia coincide com a dependência do infinito.
As circunstâncias, os nossos limites e os dos outros, não representam, portanto, uma objecção à autonomia, mas uma oportunidade para aprofundar o significado do estar no mundo, para nós e para os outros.
A tradição cristã, em particular da Igreja, representa a expressão mais clara deste anseio que a modernidade descobriu e colocou em primeiro plano e que, na sua evolução, muitas vezes traiu, fechando a razão sobre si mesma, conduzindo muitas vezes a ações violentas. É como se a Igreja dissesse ao mundo: “não tema o seu desejo, não o reduza, pois a resposta existe, o infinito veio ao encontro do homem!”.