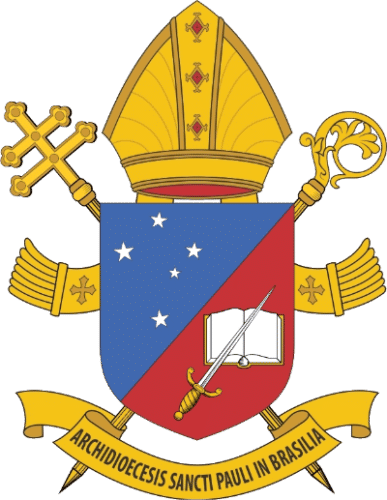Desde a publicação da Rerum Novarum, o mundo passou por várias mudanças. A Igreja Católica também. Cabe a cada um de nós dar continuidade a esta história, naqueles espaços que Deus nos confiou.

No início do século XX, cerca de 70% da população mundial dedicava-se à agricultura. Nas cidades, mais da metade dos trabalhadores estava na indústria. O setor de serviços era mínimo. Mais de 80% da população global encontrava-se em situação de pobreza extrema, com os mais pobres concentrados na África, Ásia e América Latina. A “classe média” correspondia a menos de 10% da população ativa mundial.
Atualmente, menos de 30% da população global se dedica à agricultura. Nas cidades, para cada trabalhador na indústria, existem dois voltados ao setor de serviços. A pobreza extrema afeta menos de 10% da população e a classe média representa cerca de metade da população mundial. Esse novo grupo social passou a ter maior acesso ao consumo, à cultura e à participação política, modificando padrões de comportamento e expectativas sociais.
A questão trabalhista. Tais mudanças afetaram profundamente as lutas sociais. A primeira metade do século XX viu o fortalecimento dos sindicatos e do movimento operário, acompanhando o crescimento da industrialização. Ambos tiveram papel inegável no surgimento dos Estados sociais, fundamentais para a melhoria das condições de vida da população e para a estabilidade do capitalismo. Nos anos 1950, cerca de 36% da força de trabalho dos Estados Unidos era sindicalizada, três vezes mais do que em 1930; Suécia e Dinamarca tinham cerca de 95% de trabalhadores sindicalizados, Finlândia 85%, Noruega e Áustria acima de 60%, e Reino Unido, Irlanda e Austrália acima de 50%.
A partir da década de 1980, vemos um refluxo do movimento sindical. As causas incluem desindustrialização, avanço tecnológico, globalização, terceirização, maior informalidade no mercado de trabalho, reformas trabalhistas e crises de sustentação dos Estados sociais. Mais recentemente, é a Inteligência Artificial que promete transformar profundamente o mercado de trabalho. Países com maior sindicalização em 2020 incluíam Suécia (65,2%) e Finlândia (58,8%), mas a tendência geral é de queda da taxa de sindicalização. Na Grã-Bretanha, caiu de 50,7% em 1979, para 23,5%, em 2000. Nos Estados Unidos, diminuiu de 20,1%, em 1983 para 10,3% em 2019. Na França, foi de 20%, em 1980 para menos de 8% em 2010. No Brasil, passou de 22%, em 1992, para 17%, em 2013.
A erosão dos valores. Com o Iluminismo, a civilização ocidental desenvolveu, provavelmente como nenhuma outra, a autocrítica. Os intelectuais mostraram as incongruências do pensamento hegemônico; os revolucionários, as hipocrisias dos poderosos; os jovens, o autoritarismo da moral. No século XX, essas tendências se universalizaram, tornando-se mentalidade comum. Em 1926, André Malraux escreveu: “Não há ideal a que possamos sacrificar-nos, porque de todos eles conhecemos a mentira”. Esta afirmação anunciava a crise cultural que cresceria ao longo do século XX.
Houve um ponto de virada em 1968. A ilusão utópica de uma ruptura revolucionária contaminava a juventude ocidental. Mas a revolução não aconteceu, ao menos como esperado. O idealismo não morreu, mas reduziu-se. A queda dos regimes comunistas sepultou o marxismo tradicional. Novas bandeiras, como o ambientalismo e a defesa das minorias, ocuparam o lugar das antigas.
A “pós-modernidade” coincidiu com uma sociedade “líquida”, na qual os valores tradicionais perderam valor e a liberdade – vista como autonomia absoluta e não como possibilidade de realização plena – se tornou o único princípio universal. Mas isso não responde integralmente ao coração humano. As pessoas ganharam a possibilidade de amar de todas as formas, mas isso não lhes garante um amor que as realiza humanamente.
A sociedade líquida deu origem a uma busca cada vez maior por solidez e confiabilidade, por valores nos quais se pode apostar a vida.
Consolidação e crise da democracia liberal. Após a Segunda Guerra Mundial, a democracia liberal emergiu como modelo político dominante no Ocidente, promovendo direitos individuais, eleições livres e economia de mercado. No entanto, permaneciam problemas mal resolvidos, como o déficit de participação da população, a ingerência dos poderes econômicos, as desigualdades sociais, as dificuldades financeiras dos Estados, os escândalos de corrupção.
Na década de 1970, a crise de estagflação (baixo crescimento e alta inflação), desafiou o modelo econômico vigente, abrindo espaço para o neoliberalismo. Este promoveu a desregulamentação dos mercados, reduziu gastos sociais públicos. Teve sucesso em certas frentes. Contudo, não solucionou os maiores problemas das democracias liberais: não garante justiça social nem um Estado mais virtuoso, subestima a crise climática e continua favorecendo poderosos. A globalização enfraqueceu os governos, reduzindo sua capacidade de resposta aos problemas nacionais.
No século XXI, o mundo testemunhou o retorno dos populismos “iliberais”: não defendem regimes autoritários, mas descreem na democracia liberal e suas instituições, incentivando lideranças personalistas que se apoiam em ressentimentos e respostas instintivas, frequentemente agressivas, aos problemas sociais.
As reconfigurações da esquerda. O socialismo e os movimentos de transformação social não passaram ilesos a todas essas mudanças. Não se pode entender a esquerda atual com as mesmas categorias com que se analisa aquela dos tempos do Papa Leão XIII.
Uma perspectiva da esquerda presa ao passado não é adequada tanto para aqueles que procuram nela soluções para o presente, quanto para aqueles que desconfiam de sua capacidade de responder aos problemas sociais.
Já o início do século XX estava dividido entre os revolucionários, que abraçaram o comunismo, e os reformistas, que procuraram soluções dentro da ordem capitalista, por meio da social-democracia. Apesar de todo o seu poderio no século XX, o comunismo naufragou, com o fim da União Soviética e com o seu último grande baluarte, a China, adotando, na prática, um sistema econômico de mercado. A social-democracia tornou-se parte da democracia liberal, e passou a compartilhar com ela das mesmas vicissitudes.
A esquerda trabalhista, focada no conflito capital-trabalho, vem sendo substituída por uma esquerda centrada nas lutas identitárias e na defesa das minorias, cada vez mais empenhada nas questões culturais e comportamentais. As reivindicações econômicas não deixaram de existir e ter seu sentido, assim como o combate à fome e a superação das assimetrias devidas à ocupação colonial; contudo, surgiram novas demandas como o reconhecimento da identidade do outro, e antigas questões ganharam novos contornos, como o drama dos migrantes e refugiados. A autonomia do indivíduo, base do pensamento liberal, passou a ser uma das principais bandeiras dessa nova esquerda, sinal inequívoco de um novo tempo, com novos desafios.
O ateísmo militante foi perdendo força, com muitas lideranças de esquerda reconhecendo os méritos da ação social da Igreja, e muitas lideranças católicas buscando um diálogo produtivo com a esquerda. Dos dois lados existem os que aceitam e os que não aceitam esse diálogo como um esforço sincero e bem-intencionado, mas sua existência é um dado de fato que deve ser encarado por todos.
Desafios e respostas da Doutrina Social da Igreja. O século XX foi um período intenso e rico para a Igreja Católica, que levou à realização do Concílio Vaticano II. A Doutrina Social da Igreja, neste período, vem criando critérios de discernimento para os desafios que afligem a humanidade. Não são respostas programáticas, que a Igreja reconhece serem atribuição do mundo laico, mas uma visão da realidade que nasce da caridade, que dialoga com a humanidade de cada um de nós, nascida da experiência da fé.