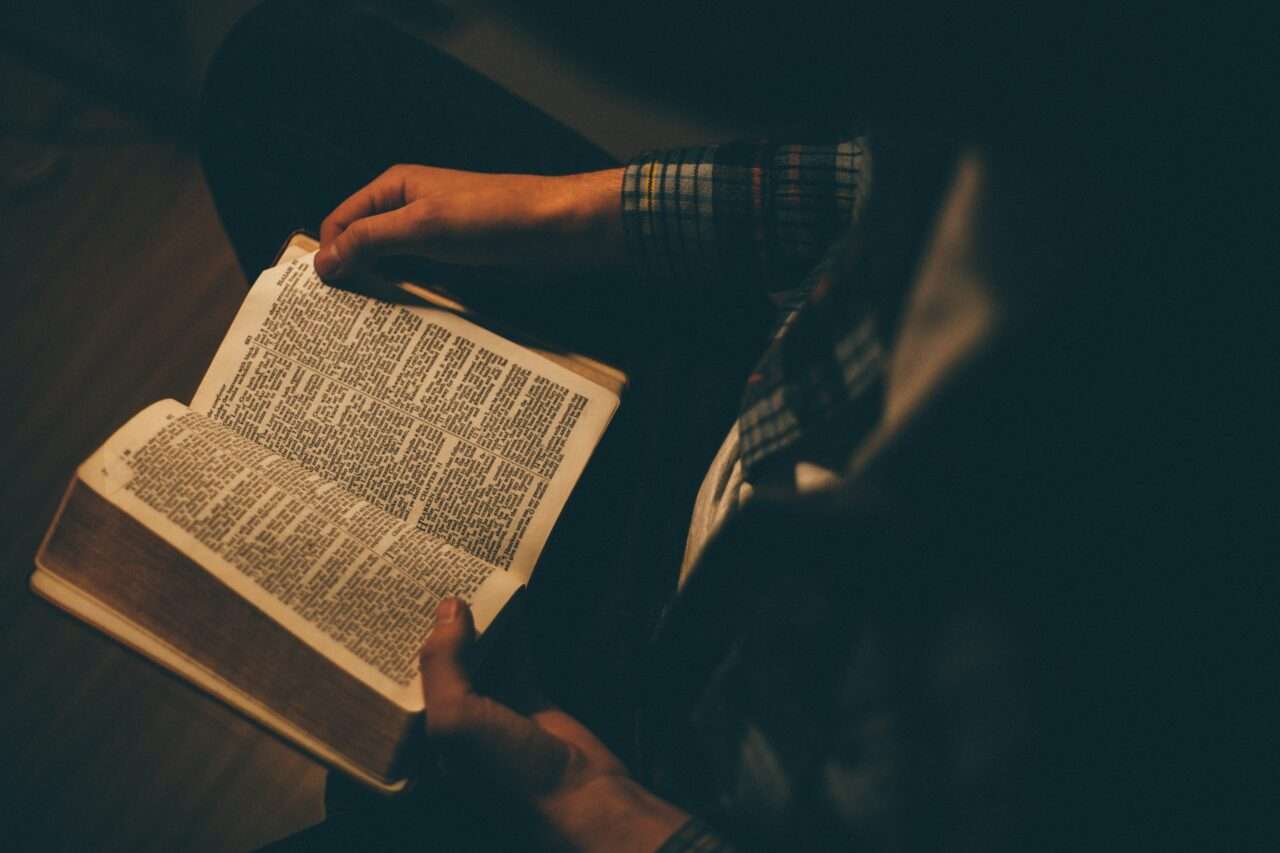A Bíblia, de inspiração divina, teve os livros do Primeiro Testamento redigidos a partir de tradições orais muito antigas, organizadas entre os séculos X e VI a.C., nos idiomas hebraico, aramaico e grego antigo.
Os livros do Segundo (Novo) Testamento foram escritos em grego antigo, ao longo dos anos 50 e 100 d.C., começando pelas cartas de São Paulo e terminando com o Evangelho de São João e o Apocalipse. Jesus e seus discípulos viviam em uma região trilíngue (aramaico, hebraico e grego), e o uso do grego teve a finalidade de alcançar também os judeus da diáspora, fora da Palestina.
Hoje, temos a Bíblia ao alcance de um toque, em português ou qualquer outro idioma. Mas quando tivemos a primeira tradução para o vernáculo? Foi um longo caminho. E quando os fiéis passaram a ouvir as leituras bíblicas em sua própria língua durante a missa?
A língua comum no Império Romano e, depois, na Igreja Católica, foi o latim. Para esse idioma, São Jerônimo traduziu a Bíblia, no século IV, versão conhecida como Vulgata, que se tornou o texto oficial da Igreja.
As primeiras traduções para o inglês, francês, alemão e italiano tinham uso restrito aos monges e ao ensino religioso. Foi apenas com a Reforma Protestante, no século XVI, que surgiram numerosas versões nos idiomas nacionais, amplamente divulgadas entre os leigos.
O Concílio de Trento (1545- 1563) reafirmou a centralidade da Vulgata, permitindo traduções a partir dela. No século XX, com a encíclica Divino Afflante Spiritu (1943), o Papa Pio XII incentivou novas traduções diretamente para os idiomas pátrios, abrindo caminho aos leigos, para maior compreensão da Sagrada Escritura.
Poucos meses antes, na encíclica Mystici Corporis Christi (Corpo Místico de Cristo), o Papa Pio XII havia ressaltado a importância da participação dos leigos na vida da Igreja.
No Brasil, desde o século XVIII circulavam bíblias em português trazidas de Portugal, mas de uso apenas para religiosos e estudiosos. No século XIX, os leigos protestantes tinham acesso às Escrituras. Entre os católicos, a difusão em grande escala começou em 1959 e se consolidou após o Concílio Vaticano II (1962-1965).
Até então, a missa era celebrada em latim e a homilia em português. Com a reforma litúrgica, as leituras passaram a ser feitas no idioma local, e isso favoreceu o protagonismo dos leigos e estimulou grupos de reflexão bíblica em comunidades e paróquias.
A leitura direta da Bíblia em língua própria fortaleceu a vivência da Palavra, com atitudes concretas e experienciais de amor ao próximo: acolher, ouvir atentamente o irmão, ser solidário e exercer a empatia para participar de suas alegrias e sofrimentos.
Uma nova fase se abre na Igreja Católica, em que os leigos criam laços mais profundos de pertencimento e oferecem uma contribuição mais efetiva à vida da comunidade.
Escutar e colocar em prática a Palavra nos torna verdadeiros discípulos de Cristo. Por isso, a leitura bíblica é chamada a se tornar hábito diário, capaz de iluminar as escolhas, fortalecer a fé e inspirar o amor ao próximo.